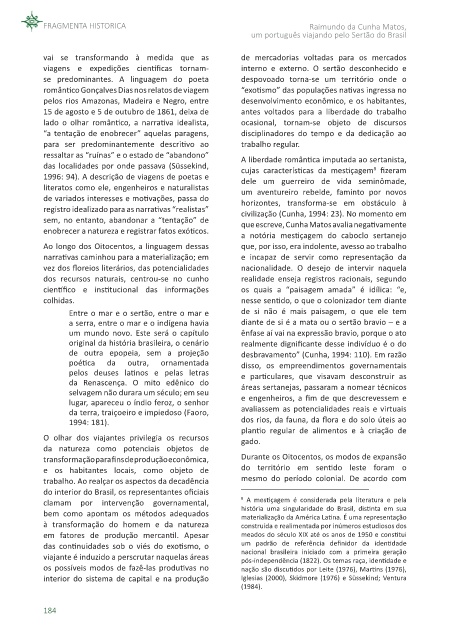Page 184 - 4
P. 184
FRAGMENTA HISTORICA Raimundo da Cunha Matos,
um português viajando pelo Sertão do Brasil
vai se transformando à medida que as de mercadorias voltadas para os mercados
viagens e expedições científicas tornam- interno e externo. O sertão desconhecido e
se predominantes. A linguagem do poeta despovoado torna-se um território onde o
romântico Gonçalves Dias nos relatos de viagem “exotismo” das populações nativas ingressa no
pelos rios Amazonas, Madeira e Negro, entre desenvolvimento econômico, e os habitantes,
15 de agosto e 5 de outubro de 1861, deixa de antes voltados para a liberdade do trabalho
lado o olhar romântico, a narrativa idealista, ocasional, tornam-se objeto de discursos
“a tentação de enobrecer” aquelas paragens, disciplinadores do tempo e da dedicação ao
para ser predominantemente descritivo ao trabalho regular.
ressaltar as “ruínas” e o estado de “abandono” A liberdade romântica imputada ao sertanista,
das localidades por onde passava (Süssekind, cujas características da mestiçagem fizeram
8
1996: 94). A descrição de viagens de poetas e dele um guerreiro de vida seminômade,
literatos como ele, engenheiros e naturalistas um aventureiro rebelde, faminto por novos
de variados interesses e motivações, passa do horizontes, transforma-se em obstáculo à
registro idealizado para as narrativas “realistas” civilização (Cunha, 1994: 23). No momento em
sem, no entanto, abandonar a “tentação” de que escreve, Cunha Matos avalia negativamente
enobrecer a natureza e registrar fatos exóticos. a notória mestiçagem do caboclo sertanejo
Ao longo dos Oitocentos, a linguagem dessas que, por isso, era indolente, avesso ao trabalho
narrativas caminhou para a materialização; em e incapaz de servir como representação da
vez dos floreios literários, das potencialidades nacionalidade. O desejo de intervir naquela
dos recursos naturais, centrou-se no cunho realidade enseja registros racionais, segundo
científico e institucional das informações os quais a “paisagem amada” é idílica: “e,
colhidas. nesse sentido, o que o colonizador tem diante
Entre o mar e o sertão, entre o mar e de si não é mais paisagem, o que ele tem
a serra, entre o mar e o indígena havia diante de si é a mata ou o sertão bravio – e a
um mundo novo. Este será o capítulo ênfase aí vai na expressão bravio, porque o ato
original da história brasileira, o cenário realmente dignificante desse indivíduo é o do
de outra epopeia, sem a projeção desbravamento” (Cunha, 1994: 110). Em razão
poética da outra, ornamentada disso, os empreendimentos governamentais
pelos deuses latinos e pelas letras e particulares, que visavam desconstruir as
da Renascença. O mito edênico do áreas sertanejas, passaram a nomear técnicos
selvagem não durara um século; em seu
lugar, apareceu o índio feroz, o senhor e engenheiros, a fim de que descrevessem e
da terra, traiçoeiro e impiedoso (Faoro, avaliassem as potencialidades reais e virtuais
1994: 181). dos rios, da fauna, da flora e do solo úteis ao
plantio regular de alimentos e à criação de
O olhar dos viajantes privilegia os recursos gado.
da natureza como potenciais objetos de
transformação para fins de produção econômica, Durante os Oitocentos, os modos de expansão
e os habitantes locais, como objeto de do território em sentido leste foram o
trabalho. Ao realçar os aspectos da decadência mesmo do período colonial. De acordo com
do interior do Brasil, os representantes oficiais
A mestiçagem é considerada pela literatura e pela
clamam por intervenção governamental, 8 história uma singularidade do Brasil, distinta em sua
bem como apontam os métodos adequados materialização da América Latina. É uma representação
à transformação do homem e da natureza construída e realimentada por inúmeros estudiosos dos
em fatores de produção mercantil. Apesar meados do século XIX até os anos de 1950 e constitui
das continuidades sob o viés do exotismo, o um padrão de referência definidor da identidade
nacional brasileira iniciado com a primeira geração
viajante é induzido a perscrutar naquelas áreas pós-independência (1822). Os temas raça, identidade e
os possíveis modos de fazê-las produtivas no nação são discutidos por Leite (1976), Martins (1976),
interior do sistema de capital e na produção Iglesias (2000), Skidmore (1976) e Süssekind; Ventura
(1984).
184