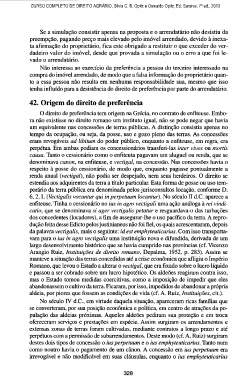Page 330 - CURSO COMPLETO DE DIREITO AGRÁRIO, Silvia C. B. Opitz e Oswaldo Opitz, Ed. Saraiva, 7ª ed., 2013
P. 330
CURSO COMPLETO DE DIREITO AGRÁRIO, Silvia C. B. Opitz e Oswaldo Opitz, Ed. Saraiva, 7ª ed., 2013
Se a simulação consistir apenas na proposta e o arrendatário não desistiu da
preempção, pagando preço mais elevado pelo imóvel arrendado, devido à inexa-
ta afirmação do proprietário, fica este obrigado a restituir o que exceder do ver-
dadeiro valor do imóvel, desde que provada a simulação ou o erro a que foi le-
vado o arrendatário.
Não interessa ao exercício da preferência a pessoa do terceiro interessado na
compra do imóvel arrendado, de modo que a falsa informação do proprietário quan-
to a essa pessoa não resulta em nenhuma responsabilidade sua, mesmo que isso
tenha influído para a desistência do direito de preferência por parte do arrendatário.
42. Origem do direito de preferência
O direito de preferência tem origem na Grécia, no contrato de enfiteuse. Embo-
ra não existisse no direito romano um instituto igual, não se pode negar que havia
um equivalente nas concessões de terras públicas. A distinção consistia apenas no
tempo da ocupação, ou seja, da posse, uso e gozo pleno das terras. As concessões
eram revogáveis ad libitum do poder público, enquanto a enfiteuse, em regra, era
perpétua. Em ambas podiam os concessionários transferi-las inter vivos ou mortis
causa. Tanto o cessionário como o enfiteuta pagavam um aluguel ou renda, que se
denominava canon, na enfiteuse, e vectigal, na concessão. Nas concessões havia o
respeito à posse do cessionário, de modo que, enquanto pagasse pontualmente a
renda anual ( vectigal), não podia ser despejado, nem seus herdeiros. O direito se
estendia aos adquirentes da terra a título particular. Esta forma de posse ou uso tem-
porário da terra pública era denominada pelos jurisconsultos locação, conforme D.
6, 2, L (Vectigalis vocantur qui in perpetuum locantur). No século II d.C. aparece a
enfiteuse. Tinha o cessionário no ius in agro vectigali uma ação análoga à rei vindi-
catio, que se denominava si ager vectigalis petatur e resguardava-o das turbações
dos concedentes (locadores), a fim de assegurar-lhe o uso pacífico da terra. A repro-
dução feita desse Edicto pelos justinianeus não foi fiel, os quais acrescentaram, depois
da palavra vectigalis, mais o seguinte: id est emphyteuticarius. Com isso transporta-
vam para o ius in agro vectigalis uma instituição nova e difundida, derivada de um
largo desenvolvimento histórico que se havia cumprido nas províncias (cf. Vicenzo
Arangio Ruiz, Instituições de direito romano, Depalma, 1952, p. 283). Assim se
manteve a situação das terras concedidas até a crise econômica que afligiu o Império
Romano, que levou o Estado a alterar o vectigal, que era fixado sobre o lucro líquido
e passou a ser cobrado sobre um lucro hipotético. Os aldeões reagiram contra isso,
mas o Estado tomou medidas coercitivas, como a imposição de impedir que eles
abandonassem o cultivo da terra. Ficaram, por isso, impedidos de abandonar a própria
aldeia, por piores que fossem as condições de vida (cf. A. Ruiz, Instituições, cit.).
No século IV d.C., em virtude daquela situação, apareceram ricas farru1ias que
se converteram, por sua posição econômica e política, em centro de atrações da po-
pulação das aldeias próximas. Aqueles aldeões pediram sua proteção e em troca
ofereceram serviços e prestações em espécie. Assim surgiram os arrendamentos e
extensas zonas de terras foram cultivadas, mediante contratos a longo prazo e até
perpétuos com a permissão de subarrendamentos. Deste modo (cf. A. Ruiz) surgiram
destes dois tipos de concessão o ius perpetuum e o ius emphyteuticarius. Tanto num
como noutro havia o pagamento de um cânon. A concessão em ius perpetuum era
irrevogável e não modificável em suas cláusulas, enquanto o ius emphyteuticarius
328